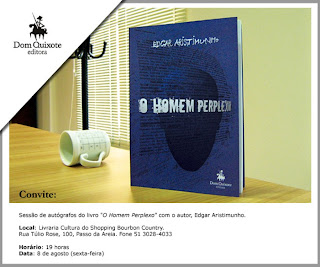Os Engarrafados
CRÔNICA ESPORTIVA DA SEMANA
Todo reconhecimento vem do copo. Frase solta, sentença infame, esta bem poderia ser uma das tantas atribuídas ao mestre da crônica esportiva, Nelson Rodrigues, mas ele nunca escreveu isso. Muita gente atribui frases a ele, acreditando que uma conclusão ignóbil ganhe validade universal assim. Esquecem, os canalhas, que a grande contribuição ao relato esportivo introduzido por Nelson não está nas frases prontas, mas no estranhamento. O sujeito babava o chute perdido. A bola fugiu-lhe dos pés como a última corda de um violino. O goleiro tinha os olhos de um toureiro atingido diante da platéia. São metáforas, imagens que só poderiam tem algum sentido literário se estivem dentro de um texto escrito por Nelson Rodrigues. Quero dizer com tudo isso que a frase acima só ganha sentido se pensamos no jogo de ontem como um exercício de abstração, o nada. Toda partida de futebol amador é inusitada em si mesma, mas não acontece e as melhores revelações sobre o jogo começam no momento do primeiro gole, do primeiro brinde. O jogo é dos engarrafados.
Todo reconhecimento vem do copo. Frase solta, sentença infame, esta bem poderia ser uma das tantas atribuídas ao mestre da crônica esportiva, Nelson Rodrigues, mas ele nunca escreveu isso. Muita gente atribui frases a ele, acreditando que uma conclusão ignóbil ganhe validade universal assim. Esquecem, os canalhas, que a grande contribuição ao relato esportivo introduzido por Nelson não está nas frases prontas, mas no estranhamento. O sujeito babava o chute perdido. A bola fugiu-lhe dos pés como a última corda de um violino. O goleiro tinha os olhos de um toureiro atingido diante da platéia. São metáforas, imagens que só poderiam tem algum sentido literário se estivem dentro de um texto escrito por Nelson Rodrigues. Quero dizer com tudo isso que a frase acima só ganha sentido se pensamos no jogo de ontem como um exercício de abstração, o nada. Toda partida de futebol amador é inusitada em si mesma, mas não acontece e as melhores revelações sobre o jogo começam no momento do primeiro gole, do primeiro brinde. O jogo é dos engarrafados.
O jogo de ontem. Qual a validade de uma partida de futebol amador se ela não terminar numa mesa de bar? De que adiantaria descrever aqui a partida de futebol que jogamos ontem nos gramadas da Coflob se não houvesse certa dose de estranhamento no relato? Qual o sentido da crônica esportiva que se debruça sobre o futebol da várzea senão o de ver a beleza estética de uma jogada centrada no absurdo? Enfim, não há nada que possa ser dito sobre o jogo de ontem do que a lucidez da análise feita pelos especialistas, na mesa do bar. Los olvidados. Os esquecidos diante do copo. Os engarrafados. A verdade, amigos, é que o jogo é uma abstração, uma pintura, por vezes grotesca, cenário vazio, um filme de Antonioni tamanha a incomunicabilidade em campo. De modo que o relato do goleiro-cronista, protagonista ele mesmo da partida, começa sempre no momento mais sublime: quando o primeiro copo for levantado. O brinde. Jogar futebol com os amigos e depois ter o privilégio do relato, quero crer, é como voar nas cores de um céu de baunilha. Vanilla Sky.
Na noite de ontem, quando tivemos o privilégio de presenciar o ingresso, nos quadros da Coflob, da terceira geração de atletas; no dia em que estiveram em campo os tipos mais variados da natureza humana em busca de algum sentido vago de razão (o prazer de jogar uma bola); no jogo em que pelearam entre si duas equipes desiguais (no trato da bola), vi diante de mim um time inteiro de seres bizarros. Nesse dia, o meu time venceu. Estavam presentes: o goleiro Desmontável (cai em lentas etapas), o lateral Bárbaro (sempre fugindo da zaga para invadir novos territórios), o Turfista de Não-Me-Toque (alguns jogam como se fossem jóqueis), auxiliados, na ponta esquerda, pelo Bailarino-De-Uma-Nota-Só (o homem que dribla a si mesmo), acompanhados no meio de campo pelos dois Bicombustíveis do time (os maratonistas, tal o fôlego), e finalmente, no ataque, o prêmio revelação da noite: a dupla formada pelo centroavante Botijão (o homem da pronta entrega a domicílio) e o ponta-de-lança Apagão (o sujeito não decolou ontem). Um time inteiro a serviço dos acontecimentos mais absurdos. O meu time, contudo, foi comportado e ganhou o jogo. O time adversário – os engarrafados – foi uma tragédia só.
A questão é que no futebol amador o que menos interessa é o resultado. Numa partida jogada dentro do bom senso, em que tornozelos são poupados em nome da perpetuação da espécie e onde nada de tão trágico e jornalístico acontece, sobra ao cronista o relato do inusitado. A revelação surpreendente. O lance fatal que revele algo de surpreendente sobre todos nós, amantes do futebol amador. E como num fado português, o lamento vem depois, quando todos estiverem no local mais importante da partida: na mesa do bar. Sentados ali, os atletas do time adversário buscavam as tradicionais explicações para a sonegação fiscal de seu goleiro (a bola, afinal, entrou, e ele não queria declarar o gol), para o pífio desempenho do Homem de Pelotas, buscavam algo que justificasse a falta de magia de nosso grande ilusionista, Harry P., o pequeno bruxo ontem não jogou nada. Como também não jogaram nada o Assassino da Taís (como ficou conhecido o demolidor da noite), nem o Rapaz com os Cabelos Cor de Baunilha, e muito menos o holandês Cocu. Foram só copos e copos de lamentação, ali, o resto da noite reunidos na grande mesa de nossa camaradagem, um brinde à vida, à nossa vitória, ao retorno do convívio com os amigos do futebol, a razão de ser do futebol amador, o futebol dos engarrafados.
O reconhecimento vem do copo.
Porto Alegre, 29 de setembro de 2007.
Porto Alegre, 29 de setembro de 2007.