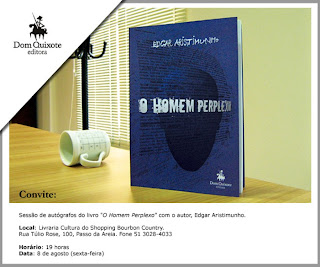Azeitonas Verdes
Na cozinha, sentado na espaçosa mesa de jantar, tenho diante de mim um pequeno pote onde descansam no líquido da conserva uma porção de azeitonas verdes. Está destampado, a tampa ficou caída ao lado, atirada, testemunho inútil da minha ação. Faz pouco abri o pote que retirei da despensa na esperança de que a memória viva surja dali, de dentro. Deixei-o aberto, à minha frente, como um objeto de adoração emotiva. De lembranças vindas do passado. O vidro. O pai deitado embaixo do vidro que hoje à tarde fechamos, e ao lembrar, choramos. O vidro. Ainda exala o aroma forte de algo recém destampado. O mesmo cheiro salgado do tempo em que viajava de caminhão com o meu pai. Eu e ele. A mãe sempre ficava em casa, muito longe, a quilômetros daquela e de qualquer outra estrada que para mim seria sempre sinônimo de euforia, enquanto que para o pai, trabalho e dinheiro contado. E resignação. Ele nunca me dizia. No silêncio dos quilômetros rodados, eu percebia ele morder a direção, a brigar contra monstros invisíveis.
Viajávamos naquela época para a fronteira com a Argentina. A carga, azeitonas verdes. Eu nem imaginava que existissem outros tipos de azeitonas. Para mim, todas eram verdes. E cheirosas. Carregadas em pesados tonéis, vinham submergidas em água salgada, carga líquida, delicada. De Uruguaiana a São Paulo, eram muitos quilômetros durante os quais a minha inquietação de menino travesso me levava da estrada para o retrovisor, e dali para a simetria da fileira de tonéis lá atrás. Eu cuidava a carga. Noutras vezes eu só olhava a estrada à minha frente, depois girava os olhos pela boléia e dali ia direto para os meus sonhos. Na infância de menino filho de caminhoneiro, eu viajava na minha imaginação contando placas de beira de estrada, morros, curvas, pontes, localidades, postos, sempre de olho na aprovação de meu pai, sentado ao meu lado. Era isso que eu mais gostava de fazer nas férias escolares. Andar pelo mundo acompanhado de sua liberdade. Quando parávamos para almoçar, eu corria a ver os outros os modelos de caminhões, carretas, baús, os pequenos trucks que estacionados ocupavam o deserto dos pontos de parada obrigatória. Às vezes o pai queria conversar e me deixava correr ao redor, visitar o posto, subir na carreta, brincar à beira da carga enfileirada, na carroceria do caminhão. Depois ele ia descansar, não queria ser incomodado por nada desse mundo, e eu ficava quieto, sentado no meio das azeitonas.
Ao final da tarde, quando parávamos, eu pulava fora da cabine para sentir o cheiro de trabalho que corria da estrada e se misturava ao aroma das azeitonas.
Ele me chamava, subia comigo na carreta, mostrava os tonéis, apanhava uma chave apropriada, girava a grande tampa, abria, e então elas surgiam à minha frente, boiando. Aos meus olhos, o poço de bolotas esverdeadas afundadas no líquido embranquecido do tonel era um espetáculo aromático que eu associava à liberdade. Eu queria subir, olhar, meter o dedo lá dentro; ele me puxada, pedia cuidado, era uma carga preciosa. Certa vez me explicou que era recomendação da transportadora abrir alguns barris todos os dias para que as azeitonas pudessem respirar um pouco. Isso acontecia sempre antes de me deixar ali, cuidando das azeitonas verdes. Depois sumia pelo posto afora, voltava mais tarde, acompanhado, fechava as cortinas da cabine leito do caminhão, deixando o mundo lá fora, vinte toneladas de azeitona, o caldo escorrendo, o cheiro empapado da noite chegando, enquanto sentado no meio dos barris, eu ficava observando o entra-e-sai no posto, sempre alguém chegando, alguém partindo.
Viajávamos naquela época para a fronteira com a Argentina. A carga, azeitonas verdes. Eu nem imaginava que existissem outros tipos de azeitonas. Para mim, todas eram verdes. E cheirosas. Carregadas em pesados tonéis, vinham submergidas em água salgada, carga líquida, delicada. De Uruguaiana a São Paulo, eram muitos quilômetros durante os quais a minha inquietação de menino travesso me levava da estrada para o retrovisor, e dali para a simetria da fileira de tonéis lá atrás. Eu cuidava a carga. Noutras vezes eu só olhava a estrada à minha frente, depois girava os olhos pela boléia e dali ia direto para os meus sonhos. Na infância de menino filho de caminhoneiro, eu viajava na minha imaginação contando placas de beira de estrada, morros, curvas, pontes, localidades, postos, sempre de olho na aprovação de meu pai, sentado ao meu lado. Era isso que eu mais gostava de fazer nas férias escolares. Andar pelo mundo acompanhado de sua liberdade. Quando parávamos para almoçar, eu corria a ver os outros os modelos de caminhões, carretas, baús, os pequenos trucks que estacionados ocupavam o deserto dos pontos de parada obrigatória. Às vezes o pai queria conversar e me deixava correr ao redor, visitar o posto, subir na carreta, brincar à beira da carga enfileirada, na carroceria do caminhão. Depois ele ia descansar, não queria ser incomodado por nada desse mundo, e eu ficava quieto, sentado no meio das azeitonas.
Ao final da tarde, quando parávamos, eu pulava fora da cabine para sentir o cheiro de trabalho que corria da estrada e se misturava ao aroma das azeitonas.
Ele me chamava, subia comigo na carreta, mostrava os tonéis, apanhava uma chave apropriada, girava a grande tampa, abria, e então elas surgiam à minha frente, boiando. Aos meus olhos, o poço de bolotas esverdeadas afundadas no líquido embranquecido do tonel era um espetáculo aromático que eu associava à liberdade. Eu queria subir, olhar, meter o dedo lá dentro; ele me puxada, pedia cuidado, era uma carga preciosa. Certa vez me explicou que era recomendação da transportadora abrir alguns barris todos os dias para que as azeitonas pudessem respirar um pouco. Isso acontecia sempre antes de me deixar ali, cuidando das azeitonas verdes. Depois sumia pelo posto afora, voltava mais tarde, acompanhado, fechava as cortinas da cabine leito do caminhão, deixando o mundo lá fora, vinte toneladas de azeitona, o caldo escorrendo, o cheiro empapado da noite chegando, enquanto sentado no meio dos barris, eu ficava observando o entra-e-sai no posto, sempre alguém chegando, alguém partindo.
Agora diante de mim, este pote de azeitonas verdes me faz mergulhar na memória daqueles barris importados trazidos do país vizinho, atravessando o país, transportado pelo meu pai. Depois as horas de descanso em beira de estrada. O mundo correndo lá fora, o menino contando os caroços verdes para o passar o tempo, o dedo metido no tonel, o tempo parava, o pai não saía da cabine, o tempo corria, só parávamos para descansar, o tempo não volta. Se eu pudesse dizer ao pai tudo aquilo que vivemos juntos sem saber.