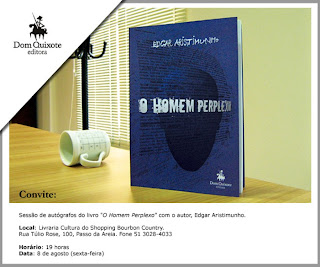O Acrobático Higuita
Pouco sabe a crônica esportiva tradicional o quanto está perdendo ao dar às costas a uma das manifestações esportivas mais belas, emblemáticas e aguerridas do jogo da bola: o futebol amador. Um tipo de jogo fundado nos impropérios e impossibilidades, mas no qual, não há dúvida, corre muito sangue nas veias. O desconhecimento é completo. Poucas são as referências que encontramos nas páginas esportivas sobre o inacabado e imperfeito mundo da bola vivido, semana após semanas, nos campos de futebol amador. Digo “Amador” e a palavra aqui vai no mesmo sentido apaixonado do filme homônimo de Krzysztof Kieslowski, um pequeno clássico do cinema que mostra como a paixão pela sétima arte pode levar alguém à loucura de abandonar tudo para viver o sonho de realizar filmes num regime de exceção marxista imposto pela União Soviética à Polônia na década de 70. Tal como no filme, o futebol amador vive no campo dos sonhos – o delírio de acreditarmos que jogamos futebol – e essa magia a crônica “especializada” nem tangencia – está longe, muito longe, preocupada com as matérias “sérias” que vendem jornal. Dá as costas, portanto, à riqueza cultural contida no sentido vago das coisas presentes num campo de futebol, na pulsação ali vivida, o jogo emotivo e emocionalmente válido que se desenrola nas centenas de partidas de futebol amador realizadas neste país toda semana. A minha crônica hoje é sobre esse campo dos sonhos.
A partida de futebol que jogamos ontem. Quem em sã consciência não terá visto ali, ontem à noite, uma bela partida de futebol. O sonho, a realização suprema de todos que estavam lá, mesmo os que perderam no placar. Jogar bem. Sim, todos viram que jogamos uma bonita partida de futebol amador. Mas, o que é “ver” quando se joga com a força e a paixão? O que é ver quando você é o cronista do absurdo é só consegue enxergar os movimentos sísmicos em campo, o inusitado das coisas. O delírio de acreditarmos, como acredita cada um de nós, que a partida teve esse “desenvolvimento harmônico das forças produtivas” (ih, olha o marxismo) por obra e graça do desempenho individual de cada atleta; como se o jogo fosse um espetáculo, uma ópera, ou como se todos ali desempenhassem algum papel na beleza pura de um balé realizado com belas jogadas e gols. Este é ponto. No futebol amador todos acreditam dar o melhor de si em campo – sangue, suor e lágrimas – não que seja violenta a partida, mas é que jogamos com o coração preso à bola; abraçamos o vento no impulso da corrida em direção ao gol; mordemos a bola, arrancamos grama com as unhas, deslocamos a trave se tudo isso for mesmo necessário; por vezes, é.
Então ontem, ali postado embaixo das traves, do ponto de vista privilegiado de onde vejo o jogo, uma bela partida de futebol se desenvolvia em campo. Até que um meio-campista do time adversário experimentou um chute de longa distância, como se não confiasse na mão do goleiro. O testador de goleiro chutou. E a bola veio em minha direção, foguete russo durante a invasão do Afeganistão, viajando no meu delírio – o medo do goleiro não é diante do pênalti – e em sinuosas curvas, doideira, toleima, ela foi chegando, e quando a bola já estava a dois palmos do goleiro, eis o inusitado. O sonho. A acrobacia tão esperada – mas quem pode “esperar” alguma coisa de um goleiro tão instável emocionalmente? – e num movimento digno do melhor balé, algo acrobático, lembrando aqui o lendário goleiro colombiano René Higuita, que defendeu de costas, com os pés, um chute, o nosso goleiro, este cronista, ao invés de dar um simples passe para o lado e espalmar a bola, ele levanta a perna, e num estranho golpe de karatê expulsa a redonda para a linha lateral.
Ele, sempre ele: hoje, ontem e sempre. O acrobático. Nosso Higuita é o personagem de hoje.
Porto Alegre, 29 de setembro de 2006.