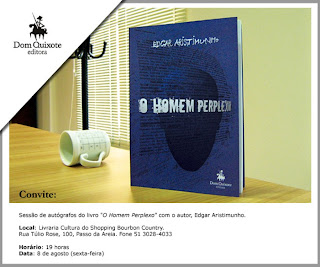Na sala da contabilidade
A lucidez da calculadora é soma das conquistas. O colega do planejamento tinha dito. Lembra disso agora, quando olha o display da máquina de calcular que tem na mão. Antes, contudo, os números iam se alternando, ele imaginando para si a exatidão dos movimentos, a pertinência do abuso e a aparente banalidade da decisão tomada no meio da tarde de trabalho. Exatamente nisso pensava ele, dez minutos atrás, quando aconteceu e toda a conta se foi. Bateu a porta e se foi. Não é fácil trabalhar fazendo contas o dia inteiro. Embaralha as necessidades. A vida fica exata demais, uma equação de possibilidades não-resolvidas, pensamentos, gestos, uma dança de corpos sem a necessária simetria das intenções. Sentados a tarde inteira na sala da contabilidade, os dois buscavam a diferença.
O ambiente é sucinto. Em sua mesa, apesar do emaranhado de planilhas e pastas, o contador tem ao seu dispor a exata definição dos valores. Encontráveis graças à calculadora de última geração, presente do amigo-colega da outra seção, sempre lhe dando lembranças, sendo amável, fazendo comentários ao pé do ouvido. Ao seu lado, ela: a instabilidade. Dois olhos lindos, um lindo movimento de cabelos e formas ocasionalmente em desalinho. O decote é uma conta que se abre lentamente como um verdadeiro patrimônio líquido. A ordem era encontrar os números finais do balanço do mês, abandonar outros parâmetros e suscetibilidades que pudessem surgir trabalhando com ela. De modo que não foi preciso conversarem muito durante toda a tarde – uma pergunta sobre o café, o fechamento, e nada mais. A seriedade da tarefa e a pressão dos prazos impediram as risadas. A tarde foi lenta: um senta-e-levanta seguido de voltas ao redor da mesa, alguns olhares, senta de novo, anota, calcula, respira, não há muito tempo para risadas. Nem respirar nessas horas, ninguém respira – os dois suspiram. Ele aproveita e olha o abismo pela última vez.
A calculadora é seu escape, uma espécie de álibi, o colega tinha ensinado. Se ela virar para o lado, ele fixa na máquina, digita um número qualquer, calcula; e assim a diferença persiste, os cálculos não batem, o trabalho se prolonga. Dentro dele, o ruído prossegue. As palavras do outro são como um roteiro a ser seguido, dito na hora certa, quando anuncia: “Achei!”. Ela abre o sorriso, é a senha; o contador avança. Sente a maciez nos dedos ao percorrer o espaço permitido, a sinuosidade dos dígitos a exigir precisão, nada de incongruências numéricas, sentimentalismos, sabe que tem que encontrar o ponto. O abraço começa firme, se prolonga... O colega do planejamento disse que quando chegasse a hora ela entenderia.
No movimento dos corpos sinuosos e na pressa, o suor corre pelas mãos e se espalha. É um suor que o deixa tenso. Ele pensa na diferença. Naquilo que o colega tinha dito dela, como tudo seria... Na emoção do momento único, nada disso, são os números que lhe vêm à cabeça; e quando inicia abraçá-la de vez com a intenção de comemorarem o fim do dia, ali, na sala da contabilidade, é que percebe a matéria lisa. A soma das conquistas. E sente um desconforto – a pergunta – ela quer saber o que ele está fazendo com a máquina calculadora na mão. Sua resposta mistura somas e conquistas.
Na lucidez do trabalho concluído, apagam as luzes, ela dá tchau e vai embora.
Pensa quando enfim explicará tudo à sua colega.